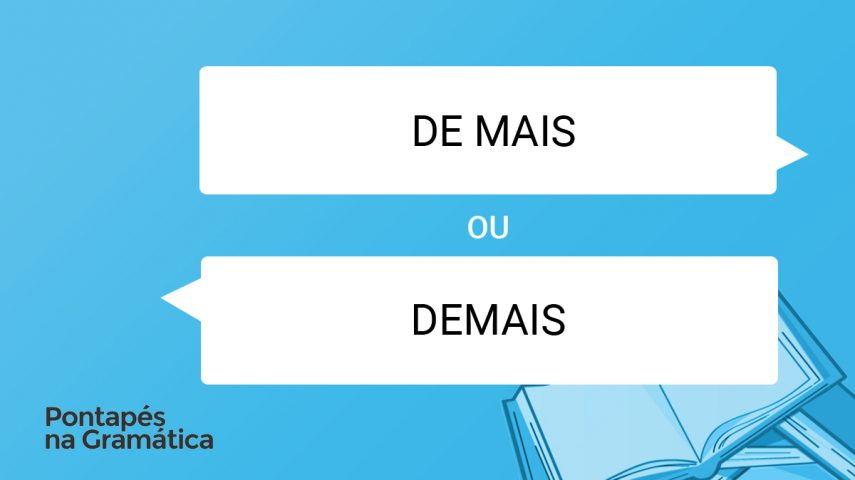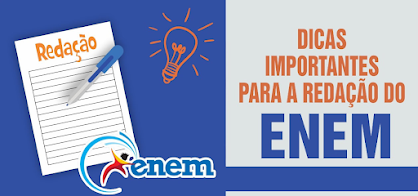https://www.techenter.com.br/b/
Semanticamente, concordar
significa entrar em harmonia, seguir uma orientação, uma determinação. Na Morfologia,
o substantivo e o verbo são as classes gramaticais mais importantes, haja vista
que elas são núcleos na construção oracional e / ou frasal, por isso todas as
outras categorias gramaticais gravitam em torno delas.
Veja:
Ex. As nossas duas jogadoras prediletas chegaram.
Nesse enunciado, as palavras “as”, “nossas”, “duas” e “estrangeiras” aparecem no feminino plural, porque o substantivo “jogadoras” está no feminino plural. Concluindo: o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral concordam com o substantivo em gênero e número.
1) O adjetivo funcionando como adjunto adnominal
– quando anteposto:
Ex. Trazia consigo velha revista e jornais.
Os
esforçados Luís e Manuel não obtiveram aprovação.
– quando posposto:
Ex. Sentia a alma e o coração sujo.
Sentia
a alma e a pele sujas.
Sentia a alma e o coração
sujos.
Obs.: Se os substantivos forem antônimos, a concordância entre ambos
será obrigatória.
Ex. Era capaz de num mesmo instante jurar amor e ódio eternos.
O
verdadeiro herói considera impostoras a glória e a derrota.
2) Predicativo do Sujeito
– quando posposto:
Ex. A mulher e o zelador abandonaram o prédio desconfiados.
Mãe
e filha pareciam bastante preocupadas.
– quando anteposto:
Ex. Desconfiado, o zelador e a mulher abandonaram o prédio.
Desconfiados,
o zelador e a mulher abandonaram o prédio.
Desconfiada,
a mulher e o zelador abandonaram o prédio.
3) Predicativo do Objeto
– quando anteposto:
Ex. O pai encontrou cansada a filha e seu irmão.
O
pai encontrou cansados a filha e seu irmão.
– quando posposto:
Ex. O juiz considerou a ré culpada.
O
juiz considerou o réu e sua mulher culpados.
4) Dois adjetivos para um substantivo
Ex.
Ela estuda a língua inglesa e a alemã.
Querem
unificar a polícia civil e a militar.
Ex.
Ela estuda as línguas inglesa e alemã.
Querem
unificar as polícias civil e militar.
5) Adjetivos compostos
Ex. Era uma morena de belos olhos verde-claros.
São
necessários acordos afro-luso-brasileiros para nova reforma ortográfica.
6) Numerais ordinais mais substantivo
Ex. O primeiro e o segundo graus fazem por merecer séria atenção do governo.
A
primeira e a segunda série apresentaram vários alunos reprovados.
1) Palavras variáveis: meio, anexo, barato, bastante, caro, incluso, leso, mesmo, extra, muito, obrigado, pouco, próprio, quite.
Ex. A turista mostrava-se meio desapontada com a cidade.
O caminhão derramou meia tonelada de asfalto na pista.
Eu
estou quite com o serviço militar.
Seguem
anexas as documentações solicitadas.
Bastantes
trabalhadores estão bastante descontentes com os rumos do país.
2) Palavras e expressões invariáveis: alerta, em alerta, em
anexo, menos, pseudo.
Ex. Os brasileiros estão alerta com as novas medidas econômicas.
Cada
vez mais menos pessoas acreditam no atual Governo.
Essa
pseudo-representação popular esconde intenções despóticas.
3) Algumas expressões: é proibido, é necessário, é bom, é preciso.
Ex. Pimenta é bom para tempero.
Esta
pimenta é boa para tempero.
É
proibido passagem.
É
proibida a passagem de estranhos.
4) A palavra “possível”
Ex.
Vi mulheres o mais elegantes possível.
Traga cervejas tão geladas quanto possível.
Paulo Jorge de Jesus
Professor Especialista em Língua Portuguesa